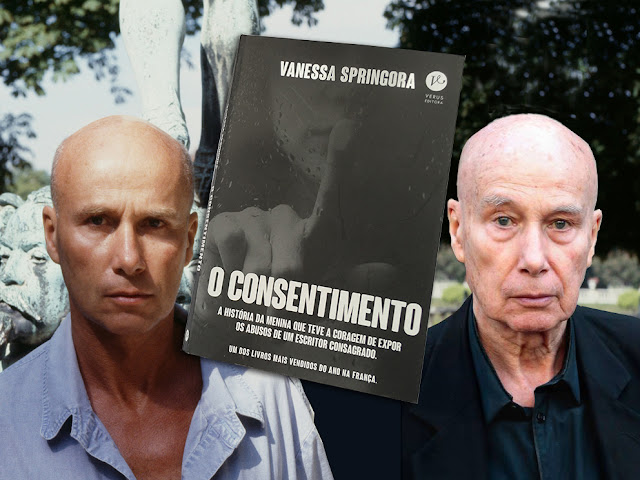Para os apaixonados pela História, o livro já abre em um momento crucial: o ataque alemão à Polônia, em 1º de setembro de 1939, sem declaração prévia de guerra, sob a perspectiva de um subtenente aquartelado em Óswiecin. Este tenente era Jan Kozielewski, depois Jan Karski.
Jan era irmão de Marian Kozielewski, 18 anos mais velho, que, à época, era o comandante da polícia de Varsóvia. Nascido na parte russa de uma Polônia que não existia até 1919, Marian havia lutado na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e sido condecorado na guerra contra os russos, em 1920.
Os anos 30 foram de estabilidade geopolítica na Polônia, mas de muita confrontação interna, com diversas forças políticas duelando entre si. E, logicamente, estavam atentos ao que vinha acontecendo na Alemanha desde 1933, com a chegada do nazismo ao poder.
Um fato que não é comum ser mencionado é que os poloneses já se preparavam para enfrentar o ataque "surpresa" dos alemães na última semana de agosto. A movimentação de tropas na fronteira já denunciava a intenção dos nazistas, e havia também uma subida de tom no discurso de Hitler.
Entretanto, a Polônia foi instada pela França a reduzir seus preparativos, para não "provocar" os alemães - o que gerou uma perda de tempo fatal na organização das defesas. Ainda assim, os reservistas foram secretamente convocados, Jan Karski entre eles, com destino à Cracóvia.
Como ele mesmo registra, durante a viagem os recrutas poloneses davam seguras demonstrações de confiança e achavam que iam tirar os alemães para nada. Um dizia que "nossa mobilização é apenas uma resposta da Polônia à guerra de nervos dos nazistas", enquanto outro afirmava que a Alemanha "estava enfraquecida e Hitler estava blefando", para complementar que "quando visse que a Polônia estava 'forte, unida e preparada', Hitler recuaria e todos voltaríamos para casa".
Um soldado se referiu a Hitler dizendo que, caso não recuasse, "aquele bufão fanático receberia o castigo merecido da Polônia, ajudada pela Inglaterra e pela França". O comandante do pelotão se empolgou, afirmando que "dessa vez, não vamos precisar da Inglaterra e da França. Podemos acertar as contas com ele sozinhos".
Um equívoco de percepção dessa grandeza só se acha em um relato escrito ainda no calor dos acontecimentos.
Toda a atmosfera de convicção na força nacional desmoronou às 4 horas da manhã do dia 1º de setembro, quando o soldadesca foi despertada por um dilúvio de bombas incendiárias. Era o início daquilo que veio a ser conhecido como a Segunda Guerra Mundial.
Diante do intenso bombardeio da Lutwaffe, do maciço avanço dos tanques por terra e da trairagem dos atiradores quinta-coluna das janelas da cidade (Volksdeutsch, ou seja, poloneses de origem alemã), não restou alternativa ao exército polonês sediado na cidade que não a retirada. Que se tornou ainda mais confusa com as notícias que vinham do leste: o rádio anunciava que os russos também estavam invadindo o país.
A surpresa e a incredulidade de quem antes se considerava garantido pela aliança com Inglaterra e França, e iludido pelas intenções ocultas do pacto Ribbentrop-Molotov, dá partida na ignição de um texto que já daí prometia ser adrenalina pura.
Repelidos na Cracóvia, seguiram em frente e continuaram marchando. Marcharam por três semanas.
Chegando a Tarnopol, foram polidamente feitos prisioneiros pelo exército russo, que também havia invadido a Polônia, mancomunado com os alemães. Foram desarmados, metidos em um trem e mandados para o interior russo. No campo de prisioneiros o tenente Karski experimentou a demagógica inversão russa da etiqueta militar: os oficiais foram acomodados em estrebarias e os soldados ganharam melhores rações e acomodações.
Para retornar ao solo polonês, ele se valeu de uma oportunidade surgida em um acordo entre Alemanha e União Soviética: os soldados poloneses nascidos em cidades pertencentes à metade alemã da Polônia foram trocados por soldados ucranianos e bielorussos.
Karski nem nascera lá, nem era soldado, mas conseguiu forjar ambas as coisas e foi trocado.
O campo de prisioneiros gerido pelos alemães era muito mais organizado e cruel do que aquele sob comando soviético. Em um transporte para um campo de trabalhos forçados, Karski logrou escapar, saltando de um trem em movimento. Estava em Kielce. Dali seguiu para Varsóvia, onde encontrou sua irmã (cujo marido fora fuzilado). Um amigo o introduziu no movimento clandestino de resistência.
O amigo, Jerzy Dziepaltowski, cuja função era executar agentes da Gestapo e traidores, foi preso, torturado e fuzilado poucos meses depois, após matar um oficial alemão. Mas, graças a ele, Karski, que agora se chamava Kucharski (entre outros incontáveis nomes...), já estava em ação.
Sua função era uma das mais importantes em tempos de guerra: a de correio. Levar mensagens escritas e verbais. Para tanto, atuava sempre sob uma camada de disfarces, meticulosamente elaborados. Um agente secreto da Resistência não poderia ser desmascarado. Por isso, cada nova identidade exigia novos documentos falsos e uma biografia convincente e verificável.
Caso ele fosse capturado, mesmo com toda esta cautela, suas ordens eram para se matar.
Sua primeira missão foi viajar para o lado soviético da Polônia ocupada. Era necessário que as forças clandestinas da resistência polonesa de ambos os lados da partilha atuassem em conjunto e subordinadas a um mesmo plano de ação. A única maneira dos comandantes de um lado saberem o que o outro planejava era por intermédio de um contato pessoal e com identificação garantida.
"Garantida" significando seguramente verificada. Porque não faltavam agentes alemães e poloneses a serviço da Alemanha se infiltrando na resistência polonesa, para abortar seus planos e prender seus integrantes. Com isso, o momento do contato pessoal entre o correio e seu destinatário era sempre tenso e repleto de subterfúgios. Apesar das senhas e contrassenhas, da checagem de cada detalhe do emissário, um passo em falso significava tortura seguida de morte.
Na sua primeira missão, onde deveria se encontrar com dois líderes poloneses, um deles o recebeu, recalcitrante, e negou que fosse quem era. Karski não teve como lhe entregar as orientações, visto que seu interlocutor se recusava a admitir que fizesse parte do movimento contra os alemães.
Era parte do jogo.
Após missões que o levaram a Lódz, Lviv, Vilnius e Cracóvia, sua mais importante tarefa foi uma aventura bem maior: foi encarregado de levar (e trazer) mensagens da Resistência para o governo polonês na França (a esta altura, ainda "fora" da guerra, pois estavam no período da "guerra de mentira", antes da França ser invadida; tudo corria quase normal no país).
A viagem foi praticamente um feito esportivo: numa empreitada que exigiu diversos dias, fez a travessia dos Cárpatos esquiando. Da Hungria seguiu para Paris, onde se encontrou pessoalmente com o primeiro-ministro do governo no exílio, o lendário general Sikorski. Antes, se reuniu com o polêmico Stanislaw Kot, de quem recebeu a orientação para a redação de um relatório - que passou para a história como o Relatório Karski.
Durante seis dias, Karski ficou confinado em um quarto de hotel, com uma secretária e uma máquina de escrever, a quem ditou seu célebre relatório, que tratava de quatro questões: 1) O itinerário clandestino seguido por Karski e sua organização; 2) As condições de vida criadas pelo ocupante nazista; 3) A evolução das opiniões políticas na Polônia ocupada; 4) A condição dos judeus sob ocupação nazista e soviética.
Foi a primeira denúncia da violência a que vinha sendo submetida a população judaica sob o regime nazista. É um documento de tal importância que seu original é conservado no Instituto Hoover, na Califórnia, entre os arquivos do governo polonês no exílio. Na sua capa, à mão, está escrito "Uwaga!" ("Atenção!"), na caligrafia de Jan Karski.
Karski retornou à Polônia, levando novas mensagens, e logo se tornou um importante elemento de ligação na sustentação do Estado clandestino, o "Estado Secreto" do título. Apesar da juventude, era um interlocutor competente e confiável. Em uma nova ida à França, fazendo a mesma rigorosa e arriscada travessia, entretanto, o cauteloso agente Jan Karski foi preso e torturado pela Gestapo.
Após sucessivos e violentos interrogatórios, incluindo uma tentativa de cooptação para que se tornasse um agente duplo, Karski tentou se matar. A tentativa foi frustrada e ele acabou provisoriamente em um hospital, para que se recuperasse e fosse então reintroduzido em novas sessões de tortura. Os alemães permaneciam obstinados em retirar informações daquele que já sabiam ser um importante correio da Resistência.
Internado em um hospital eslovaco, sob vigilância alemã, Karski soube que a França capitulara. Para sua surpresa, a "forte" França havia desmoronado diante dos alemães. O marechal Pétain assinara um acordo de colaboração com os invasores. Não só por ser a sede do governo polonês no exílio, mas pelos históricos vínculos com a Polônia, a notícia deixou Karski consternado.
"Durante séculos, fomos ligados à França por laços históricos e culturais. Para nós, poloneses, a França era quase uma segunda pátria. Nós a amávamos com aquele amor profundo, irracional que dedicávamos à Polônia", declara o autor, para então afirmar que "além do mais, toda a nossa esperança de libertar a Polônia repousava sobre a vitória da França".
Sentimentos quase que opostos ligavam o agente à Inglaterra, onde morara entre 1937 e 1938. "Havia algumas coisas que não me agradavam no caráter nacional dos ingleses. Eram secos e afetados", considera. "Muitos deles não compreendiam a Europa continental e nem mesmo se importavam com ela. Mas eram obstinados, fortes e realistas. Um francês ou um polonês, com seu amor exagerado pelos grandes gestos, poderia se suicidar diante de um fracasso, mas nunca um inglês."
A passagem de Karski pelas celas da Gestapo são o momento de maior tensão do livro, que ganha ares de thriller. Como praticamente todos os eslovacos do hospital tinham simpatia pelo agente polonês e ódio à presença alemã, não foi difícil para a Resistência polonesa tramar o resgate do seu emissário.
Que foi bem-sucedido, mas com altos custos. Como sabido posteriormente, quase todos os integrantes da Resistência que auxiliaram Karski na fuga foram mortos: além de Tadeuz Szafran, fuzilado, foram presos e deportados para Auschwitz Karol Glód, Feliks Widel e Jozef Jenet. Somente quarenta anos depois Karski soube o que aconteceu com seus salvadores.
Após a fuga, Jan ficou alguns meses escondido no solar de Katy, em Brzesko, arredores de Cracóvia, esperando a poeira baixar e a Gestapo encerrar as buscas. Se dedicou ao serviço de disseminar contra-propaganda. Lá, foi acolhido por uma família também a serviço da Resistência: Danuta Slawik, seu irmão, tenente da Armja Krajova Lucjan Slawic, e sua mãe. Pelas atividades clandestinas, todos da família foram presos no ano seguinte. Danuta foi fuzilada.
Em Cracóvia, seu conhecimento de idiomas foi utilizado para escutar rádios estrangeiras, traduzi-las e entregá-las em forma de relatório, para que o comando da Resistência determinasse a conveniência da sua divulgação e publicação. Embora simples, era uma atividade perigosa: qualquer cidadão polonês flagrado de posse de um rádio era sumariamente executado.
Neste instante do texto, Karski faz uma grande reflexão sobre os problemas da resistência polonesa, que vinha sendo desmontada pela Gestapo. Relata que os diversos grupos agiam isoladamente, sem subordinação a um controle central, privilegiando o máximo de ação (e confusão), na tentativa de desestabilizar o invasor.
Seria uma estratégia adequada para uma guerra curta, que era a expectativa inicial da Polônia. Mas, com a rendição francesa e o prolongamento da guerra, as células estavam desarticuladas e vulneráveis. Aí se segue uma longa exposição da estruturação polonesa e também da impressão de jornais e disseminação de notícias.
Nesta passagem o livro tem uma queda em seu élan e assume contornos panfletários - circunstância compreensível, pois a obra em si era uma ferramenta política em um mundo em guerra. Mais que tudo, visava denunciar a condução criminosa dos nazistas nos países ocupados.
Sob este prisma, um aspecto interessante é o detalhamento das atividades e da constituição do governo paralelo. O povo era orientado a ignorar as ordens da ocupação alemã e devia responder ao governo clandestino. A punição para quem era flagrado colaborando com os alemães era a morte.
Karski nos revela como as mulheres tiveram enorme importância nas ações da Resistência, seja na linha de frente, na retaguarda ou como elementos de ligação. Muitas delas, como a célebre escritora polonesa Zofia Kossak (pseudônimos "Weronika" e "Ciotka"), se destacaram pela coragem. Zofia foi responsável pelos primeiros jornais clandestinos (Polska zyje! e Orlta) e dirigiu seu próprio jornal clandestino (Prawda).
Kossak foi além e denunciou a tragédia que se abatia sobre o povo judeu. Não só: ela mesma atuou em instituições de socorro para crianças judias. Seu texto mais conhecido do período é o Protest, publicado em 10 de agosto de 1942, com uma tiragem de 5 mil exemplares. Ela o redigiu em nome dos católicos poloneses, "denunciando o massacre e a deportação dos judeus do gueto de Varsóvia para os campos da morte".
"Os judeus morrem aos milhares cercados por Pôncio Pilatos que lavam as mãos", acusou. "O mundo olha e cala. Não é mais possível tolerar este silêncio. Não temos o direito de permanecer passivos diante do crime. Quem quer que silencie diante de um assassinato torna-se cúmplice do assassino. Quem não condena consente."
O texto foi posteriormente microfilmado e levado a Londres pelo emissário Karski, onde chegou ao conhecimento das autoridades aliadas. Zofia Kossak, nascida em 1890, morreu em 1968. Seu nome foi inscrito em 1985 na aleia dos Justos, em Yad Vashem.
Esta segunda viagem de Karski a Londres é o momento historicamente mais conhecido do emissário "Witold". Sua missão oficial incluía também denunciar o extermínio da população judaica. Para que sua mensagem tivesse ainda mais credibilidade, ele foi não somente como porta-voz, mas também como testemunha.
Para obter esta legitimidade, Jan se reuniu com os dois principais representantes em território polonês do povo judeu: Léon Feiner, pelo Bund, o partido socialista judaico, e Monachem Kirszenbaum, do grupo Al Hamisznar, dos sionistas liberais.
Vou me estender "um pouquinho" na transcrição do que foi dito nesta reunião. Mais uma vez devemos nos lembrar que, quando da publicação do livro, o mundo estava no auge da guerra, e o que acontecia com os judeus era sabido por muito poucos fora da Europa. Jan estava revelando ao mundo um genocídio encoberto.
"A primeira coisa que ficou evidente para mim foi o caráter desesperado, absolutamente desesperado, de sua situação", disse Karski, ressaltando que "para nós, poloneses, era a guerra e a ocupação. Para eles, judeus poloneses, era o fim do mundo. Não havia fuga possível, nem para eles, nem para seus companheiros".
"Não tinham medo da morte em si, aceitavam-na como algo quase inevitável, mas a ela se juntava a amarga certeza de que, nesta guerra, não podiam esperar nenhum tipo de vitória", concluiu. Em seguida, deu voz às palavras do dirigente sionista:
"Vocês, poloneses, têm muita sorte. Muitos de vocês sofrem; muitos morrem, mas a nação polonesa viverá apesar disso. Depois da guerra, a Polônia voltará a existir", desabafou. "Só nós, os judeus, não estaremos lá. Nosso povo inteiro terá desaparecido. Hitler perderá sua guerra contra a humanidade, contra o bem e a justiça, mas a nós ele terá vencido, terá massacrado".
Karski perguntou o que eles queriam que fosse dito no Reino Unido, em nome dos judeus.
"Queremos que o governo polonês em Londres e os governos aliados compreendam que estamos indefesos diante do que os nazistas estão fazendo conosco", bradou. "Os alemães não pretendem nos transformar em escravos, como fazem com os poloneses e outros povos conquistados. O que eles pretendem é exterminar todos os judeus."
Parte do que viria realmente a acontecer já estava nítido para aqueles homens, agrupados em uma reunião clandestina em uma casa em ruínas em uma rua remota na periferia de Varsóvia.
"Todos nós vamos desaparecer", continuou o bundista. "Talvez um pequeno número sobreviva, mas 3 milhões de judeus poloneses estão condenados ao extermínio, assim como outros mais, vindos de toda a Europa."
Karski assume a responsabilidade de levar a mensagem à Inglaterra. Como base em relatórios da resistência, sabia naquele instante que os nazistas já tinham assassinado mais de um milhão e oitocentos mil judeus poloneses.
Em seguida os três homens deliberaram sobre sua ida clandestina ao gueto, para que Karski pudesse adicionar o testemunho visual a tudo aquilo que já lhe fora dito. Estavam na segunda quinzena de agosto de 1942. Algumas semanas antes, começara a Grande Deportação. Dez mil judeus eram embarcados todos os dias em direção a Treblinka, a pretexto de seguirem para campos de "trabalho".
Como todos sabemos, estavam indo para serem mortos nas câmaras de gás. Àquela altura, Karski estimou que mais de trezentos mil judeus já tivessem sido deportados. Seu relato da visita ao gueto (onde foi duas vezes, nos dias seguintes) pode ser resumido em um ou dois dos muitos parágrafos com os quais o descreveu.
"Tratava-se de um cemitério? Não, pois aqueles corpos ainda se moviam, muitas vezes tomados por uma agitação violenta; não, ainda estavam vivos, mas tirando a pele que cobria seus corpos, os olhos e a voz, não havia nada de humano naquelas formas palpitantes. Por todo lado, era a fome, o sofrimento, o cheiro nauseabundo dos cadáveres em decomposição, os lamentos dilacerantes das crianças em agonia, os gritos de desespero de um povo que se debatia numa luta monstruosamente desigual."
Jan testemunhou a caçada - à guisa de diversão - que jovens soldados da Juventude Hitlerista faziam pelas ruas do gueto, atirando na população, que tentava escapar da mira dos "caçadores" nazistas. Apesar do impacto que a primeira ida ao gueto lhe causou, ele achou crucial retornar.
"Retornei dois dias depois e durante três horas percorri mais uma vez as ruas daquele inferno, a fim de memorizar tudo. Vi uma criança morrer diante dos meus olhos, um velho agonizar, policiais judeus espancarem uma velha senhora com cassetetes".
Vale aqui "antecipar" que estas excursões não foram em vão. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, além do relatado em suas missões oficiais, Karski narrou o que tinha visto no gueto a alguns dos maiores escritores do mundo - entre eles H.G. Wells e Arthur Koestler, entre os mais célebres da época.
O relato do seu testemunho pessoal das atrocidades não se restringiu ao que ele viu no Gueto de Varsóvia. Infinitamente pior foi o que ele assistiu no campo de Izbica Lubelzka. A resistência subornou alguns guardas ucranianos, para que Karski entrasse no campo como se fosse um deles. O que ele viu e relata surpreende inclusive o leitor habituado aos depoimentos sobre o Holocausto. Não era o procedimento padrão de assassinato por gás ou fuzilamento. Era muito pior.
Ele descreve a situação infernal em que os judeus eram mantidos no campo, aos milhares, nus e sem alimentação, por vários dias. Os barracões comportavam dois a três mil prisioneiros, mas havia mais de cinco mil em Lubelzka. Muitos mortos e agonizantes pelo chão. Gritos dilacerantes. O comportamento das vítimas há muito já não era humano.
A uma ordem dos alemães, aquela massa de prisioneiros tinha que se deslocar para dentro dos vagões. Um segundo de imobilidade e os alemães atiravam a esmo na massa. Mas se a movimentação fosse excessivamente rápida os alemães atiravam na cara dos judeus que vinham à frente, como uma espécie criminosa - e sádica - de freio.
Segundo Karski, em um vagão onde caberiam quarenta pessoas, havia cento e trinta. Subiam uns pelos ombros dos outros. "Quando não havia mais lugar nem para uma agulha", conta Karski, "os guardas puxaram as portas e fecharam hermeticamente aquele carregamento de carne humana com barras de ferro. Mas isso não foi tudo", esclarece. "Sei que muita gente não vai acreditar. No entanto, juro que vi todas as coisas que acabei de descrever. Não tenho provas, nenhuma fotografia, mas tudo o que digo é verdade."
A ênfase era necessária diante da incredulidade coletiva. O livro "O Estado secreto", denunciando o genocídio, foi publicado em 1944. A carnificina da população judaica europeia estava em curso e o mundo ignorava - ou fingia ignorar, já que os relatos vinham se acumulando. Mas nenhum deles como o de Jan Karski. Que continua:
"O pavimento do trem era coberto por uma espessa camada de pó branco: era cal viva. Todo mundo sabe o que acontece quando se joga água na cal: a mistura torna-se efervescente e desprende um calor intenso", explica. "Nesse caso, os alemães empregavam a cal com o duplo objetivo de economia e crueldade. A carne úmida em contato com a cal desidrata rapidamente e queima. Os passageiros daquele trem queimariam lentamente até o osso."
Este meio bárbaro de assassinato confesso não me lembro de ter lido. "O processo era simples, eficiente e pouco custoso", calcula. "O trem levou três horas para ficar completamente cheio. O comboio, com seu carregamento de carne torturada, vibrava e urrava como se estivesse enfeitiçado. O trem seguiria em frente por uma centena de quilômetros e pararia no meio dos campos, onde ficaria esperando, imóvel, por três, talvez quatro dias, até que a morte penetrasse completamente em todos os meandros de cada vagão".
Jan saiu do campo absolutamente atordoado. Na manhã seguinte, ao acordar na casa onde havia se hospedado, teve violentas ânsias de vômito, e chegou a vomitar sangue. Dormiu por 36 horas. A psicologia moderna certamente diria que era um processo de fuga à realidade. Provável.
"As visões do campo da morte hão de me perseguir para sempre. Jamais consegui me livrar delas, e a simples lembrança me provoca náuseas. Mais ainda do que as imagens, queria me livrar do pensamento de que uma coisa daquelas havia realmente acontecido".
Pior é que, quando da denúncia e da publicação do livro, esta coisa continuava acontecendo. O genocídio dos judeus húngaros e italianos em Auschwitz estava somente tendo início. Somente estes seriam mais de meio milhão de seres humanos torturados e assassinados.
Cumprida esta última etapa, Jan Karski iniciou os preparativos para a entrega do seu relatório, em Londres. Se computarmos exclusivamente o percurso de 21 dias que ele iria fazer para chegar lá, a narrativa já constituiria todo um livro de aventuras.
Com um passaporte francês falso, foi de trem de Varsóvia a Berlim, onde arriscou-se encontrando um antigo amigo alemão, que, lá, descobriu ter se tornado nazista até a alma. Imprudência. De Berlim prosseguiu de trem para Bruxelas e de lá seguiu para Paris, desembarcando na Gare du Nord, onde, em uma confeitaria nos arredores da estação, recebeu novos documentos.
De Paris foi de trem para Lyon e dali foi para Perpignan, já próximo à fronteira com a Espanha, onde se encontrou com um casal espanhol que havia lutado contra Franco - que, por sua vez, o apresentou a um guia, de nome Fernando, que o levaria até o sopé dos Pireneus. Meros cinquenta quilômetros numa bike velha, à noite, no escuro,
Chegando lá, teve que esperar, escondido e imóvel, por 48 horas, no fundo de um bote. Com um novo guia, seguiu por uma trilha secundária cortando os contrafortes dos Pireneus. O sujeito não falava francês e Karski não falava espanhol. Passaram três dias no mato, mudos. Ao descerem a montanha, pernoitaram na casa da um catalão francês, que tinha um plano, arriscado, para levá-los até Barcelona.
Deu certo. Separaram-se nos arredores da cidade, no cair da noite. Karski ainda precisou andar algumas horas até chegar aos subúrbios de Barcelona. Tinha o endereço de um açougue como ponto de encontro. Comeu, dormiu sobre um pequeno banco e, no dia seguinte, se dirigiu ao consulado inglês.
Lá recebeu novos documentos e roupas limpas. Viajou oito horas de carro até chegar em Madri, onde ficou por três dias e ganhou nova documentação, desta vez como espanhol. Como não falava o idioma, o risco de ser abordado por policiais e ser preso era enorme. Não houve problemas, porém, e ele desembarcou no porto de Algeciras, onde se escondeu numa pequena casa de subúrbio.
Na noite chuvosa, Karski entrou em um barco de pesca, que o levou até uma lancha inglesa, distante da costa. Aportaram em Gibraltar e lá, depois de umas doses de uísque, o emissário seguiu em um vôo de oito horas até a Inglaterra. Um capítulo banal para Jan, mas que dava um livro para a grande maioria das pessoas normais.
Mas de normal Jan Karski não tinha nada.
Chegando em Londres, foi interrogado pela inteligência britânica, que não queria liberá-lo antes de arrancar alguns segredos. Não conseguiu nada e ele foi "sequestrado" pelos poloneses. Se encontrou com o general Sikorski, primeiro-ministro do governo polonês no exílio, de quem recebeu a medalha da Ordem Virtuti Militari.
Em seguida foi recebido por Anthony Eden, ministro dos Negócios Estrangeiros e futuro primeiro-ministro inglês. "Tudo que podia acontecer a um homem no curso dessa guerra aconteceu com o senhor, exceto uma coisa: os alemães não conseguiram matá-lo", disse Eden, complementando que "encontrá-lo foi uma honra para mim".
Meses depois, Karski teve uma entrevista pessoal com o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, na Casa Branca. O que aconteceu a partir daí foi o que eu disse no início desta longa digressão. Espero que tenha valido a pena para você que perseverantemente me leu até aqui.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a Polônia tendo ficado sob o controle da União Soviética, situação que se estendeu pelo meio século seguinte, a Karski não foi possível voltar para sua terra natal. Assim, optou por residir e lecionar nos Estados Unidos.
Seu irmão, herói da Primeira Guerra Mundial, e que, como comandante de polícia de Varsóvia, resistiu à invasão alemã e depois assumiu o comando da Segurança Nacional do Estado Clandestino, emigrou para o Canadá, onde trabalhou em uma fazenda, e depois foi morar em Washington, D.C., onde conseguiu emprego como vigia noturno. Marian Kozielewski se matou em 1964.
Uma era havia se encerrado. Foi um curto período de tempo, que marcaria todo o século, e no qual Jan foi um protagonista quase anônimo - se é que me permitem a contradição.
A Guerra Fria cobriu o passado recente como uma névoa. Os Estados Unidos assumiram, pela primeira vez, a liderança mundial e financiaram a reconstrução de uma Europa em escombros. A União Soviética engoliu diversos países por trás da Cortina de Ferro e se tornou a antagonista do Ocidente.
O emissário Witold, nome pelo qual Karski era conhecido na Resistência, se recolheu à vida civil e se recusou a dar qualquer declaração durante mais de 35 anos. O patriota visceral se tornou um estrangeiro sem passado.
Muitos anos depois da guerra, em 1981, Jan Karski foi convidado para participar da Conferência Internacional dos Libertadores dos Campos de Concentração. Aceitou. Desde 1945 ele não se expunha em público.
Sua palestra foi incisiva e não se deteve em reminiscências. Indagava da História três grandes questões, todas elas relativas ao Holocausto. 1) O que e quando os dirigentes e a opinião ocidentais ficaram sabendo? 2) Como as informações chegaram a eles? 3) Qual foi sua reação?
Não sei qual foi a resposta da plateia. Mas, como tivemos a oportunidade de ver agora, constatamos que os dirigentes
1) Ficaram sabendo porque ele, Jan Karski, viu e contou;
2) Porque ele, Jan Karski, se infiltrou no Gueto de Varsóvia e em um campo de concentração nazista, testemunhou sua rotina e viajou clandestinamente para a Inglaterra e os EUA, onde denunciou, pessoalmente e por escrito, as atrocidades;
3) E que os países ocidentais contemporizaram e não detiveram a tragédia e o genocídio judeu.
Jan Karski encerrou a conferência histórica com um depoimento pessoal. Transcrevo.
"Quando a guerra chegou ao fim, entendi que nem os governos, nem os líderes, nem os intelectuais, nem os escritores sabiam o que tinha acontecido com os judeus. Eles se mostraram surpresos. O assassinato de 6 milhões de seres inocentes era um segredo", disse.
"Nesse dia, me tornei judeu, como a família de minha mulher, presente aqui nesta sala. Sou um judeu cristão. Um católico praticante. E, embora não seja um herege, acredito que a humanidade cometeu um segundo pecado original: cumprindo ordens, por negligência, por ignorância auto-imposta ou por insensibilidade, por egoísmo ou por hipocrisia ou, ainda, por frieza calculista."
"Este pecado assombrará a humanidade até o fim do mundo. Esse pecado me assombra", confessou, antes de concluir: "E quero que seja assim."
Se você ainda não o conhecia, nem nunca ouviu falar, agora já sabe. Este foi Jan Karski.
Editora Objetiva, 439 páginas (1a edição) 2015 | Tradução Eliana Aguiar | Copyright 2010
Título original: "Mon témoignage devant le monde: Souvenirs 1939-1943"
Obs.: Por mais extenso que eu tenha sido nas minhas referências ao livro, não se contente com o que você leu aqui. Leia o livro. No fim o Editor traz centenas de notas revelando o que Karski não pôde dizer à época e atualiza também muitas das informações. Jan, nascido em 1914, faleceu no ano 2000.